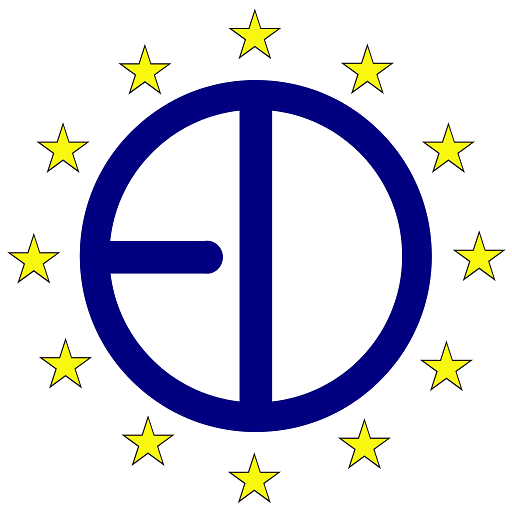Começo por esclarecer que este artigo não visa comentar as diferenças entre os candidatos finais à Casa Branca nem falar dos respetivos méritos e deméritos, se é que existem ambos nos dois. Isso está exaustivamente feito por muitos. Ao contrário, pretendo falar sobre um ponto comum aos dois que interessa diretamente aos europeus e que, como tal, vai ser algo com que se terá que lidar, qualquer que seja o vencedor.
Entre vários motivos de inquietação, nas mais variadas áreas, com que os europeus seguem o processo eleitoral nos EUA, alguns círculos de opinião têm-se preocupado, em especial, sobre o possível impacto do desfecho das eleições na forma como o novo Presidente encarará os compromissos com a Europa na área da segurança e defesa.
As declarações do candidato republicano Donald Trump em que acusa os europeus de não estarem a fazer tanto quanto deviam no âmbito da sua participação da NATO criaram alarme em vários setores, em particular nos que encaram a Rússia como uma ameaça existencial e vêm na NATO a garantia da sua defesa. Trump – convém lembrar – questionou a validade do compromisso de defesa coletiva, tal como formalizado no artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte se não se chegar a uma cooperação equilibrada no esforço militar entre os dois lados do Atlântico.
Trump sabe, no entanto, que o que diz vai ao encontro de uma maioria da opinião pública americana que se mostra cansada da deficiente distribuição desse esforço militar, apesar da a NATO continuar a ser vista por 77% dos americanos como uma boa aliança[1]. Aliás, Trump não disse nada que não tenha sido dito anteriormente, em diversas ocasiões, por políticos e até altos responsáveis da administração americana. Por exemplo, o senador John McKein, Robert Gates em discurso de despedida em reunião da NATO e o próprio Presidente Obama.
Julgam alguns que, com Hilary Clintou, a Europa pode beneficiar de um relacionamento transatlântico mais “pacífico”, até talvez merecer mais atenção do que a que lhe deu o Presidente Obama. No entanto, Clinton não vai poder dar-se ao luxo de ignorar as pressões de uma agenda interna de cariz populista que está na origem do que conseguiram os seus diretos rivais (Trump e Sanders).
«The U.S. presidential election has revealed the strength of populist sentiments that will likely affect its foreign policy in the coming years, regardless of whether Hillary Clinton or Donald Trump is elected. Emboldened populist forces will drive a greater focus on domestic issues and put limits on the attention and resources that the next administration can devote to more action abroad.» (Timo Lochocki and Jennifer Diamond, “Populism in the United States, France and Germany could have Foreign Policy unexpected consequences”)
Uma eventual política de “regresso” à Europa – se é que essa hipótese está em cima da mesa – não resistirá a um continuado desencontro de compromissos militares por parte dos europeus nem irá alterar a prioridade dada por Obama à Ásia/Pacífico (“Pivot to Asia”), que Hilary Clinton protagonizou, como secretária de Estado. Em resumo, neste campo, não são de esperar diferenças significativas nas posturas dos dois candidatos, não obstante o discurso politicamente incorreto de Trump as sugerir.
Como lembrava Michael Leigh,[2] em recente artigo[3], os europeus, qualquer que seja o desfecho eleitoral, devem preparar-se para mudanças na postura dos EUA que poderão não ser as desejadas.
A resposta a estas questões pode estar na estratégia global que a Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Frederica Mogherini, apresentou ao Conselho Europeu a 28 de junho e cujas orientações principais são as duas seguintes: a. Procura de autonomia estratégica, o que em termos de segurança e defesa corresponde à capacidade de atuar militarmente de forma autónoma[4]; b. O assumir do compromisso que cabe à União Europeia, e não à NATO, a responsabilidade primária, mas não exclusiva, pela segurança da Europa.
Infelizmente não é claro, nem para os europeus – muito menos para os americanos – que exista vontade política para concretizar as orientações estabelecidas. Há demasiados antecedentes deste tipo de desfecho. O mais óbvio é o da célebre promessa de elevar os encargos com Defesa para o nível dos 2% do PIB, promessa que se repete há quase duas décadas, sem ter sido cumprida. Em Portugal, assumiu a forma de um compromisso com honras de inscrição no Conceito Estratégico de Defesa Nacional entre 2003 e 2013, mas nunca observado.
Esta falta de credibilidade, mais tarde ou mais cedo, será ultrapassada, acredito eu. No entanto, para evitar que isso venha a acontecer numa situação crítica, será necessária uma decisão oportuna dos lideres europeus. Se esta faltar, acabará por ser o avolumar da pressão da instabilidade e insegurança que se instalou na vizinhança próxima da Europa, e que não desaparecerá miraculosamente, que ditará medidas apressadas. Tudo será muito mais complicado.
É este o assunto que devia ser objeto das inquietações europeias e não as declarações de Trump ou a provável postura de Clinton neste campo específico, que, conforme acima referido, difere muito no tom mas não significativamente no conteúdo da do rival.
O que é verdadeiramente inquietante é o facto de a Europa continuar longe de ter capacidade para atuar, autonomamente se necessário, nas crises que se desenvolvem na sua vizinhança próxima. Representam problemas de segurança que só podem ser enfrentados pelo coletivo europeu, mas que nem sequer são exatamente do âmbito de competências da NATO. São do campo da Estratégia Global da União Europeia, que precisa de ser desenvolvida com detalhe na vertente de segurança e defesa. Para Sven Biscop,[5] um dos que mais tem lutado pela credibilidade da Política Comum de Segurança e Defesa, o resultado desse esforço deve assumir a forma de um Livro Branco da Defesa Europeia:
«The EU White Paper is essential therefore, for only an EU White Paper can answer the question that NATO does not even pose: what exactly should Europeans be capable of alone when necessary?
Obviamente, o tema da NATO não se esgota na questão do défice de cooperação de que se queixa, aliás justamente, o lado americano. Aliás, esse défice, em princípio, ficará saldado no momento em que as responsabilidades dos europeus sobre a sua própria segurança forem assumidas como algo inalienável. Incluí também, por exemplo, a questão do relacionamento com a Rússia, que, decerto, será revisto pelo futuro presidente, e a clarificação do tipo de entendimento estratégico que deve moldar a colaboração NATO/UE, tendo presente que a Aliança não interessa apenas à Europa; interessa de igual modo aos EUA, independentemente do maior ou menor contributo dos europeus.
O caso do relacionamento com a Rússia exige aceitar fazer-se uma análise crítica do passado próximo. Apesar da atual postura “belicosa” da Rússia – em que o Leste europeu se baseia para defender o reforço da NATO – não é realista tentar falar da Aliança em função das ameaças que deram origem à sua criação. A Rússia tem uma clara ambição de disputar a hegemonia de que o Ocidente tem desfrutado e insiste em tentar demonstrar que os problemas com que o mundo se debate não serão resolvidos sem a sua participação, isto é, apenas pelos EUA. Recentes declarações de Lavrov deixam bem claro que para Moscovo não chega ser ouvido. É preciso que seja também parte da solução:
«If you remember a few months ago (President Barack) Obama said just that: ‘We are the ones who should lay down the rules. If this is the way our American partners think, it means we will have to go through a painful period of realization that no one can do anything on their own.»
O caso da anexação da Crimeia demonstra que a Rússia não deixará de reagir quando sentir em causa áreas de influência que considera vitais para a sua segurança, sendo que o caso da Ucrânia e da Geórgia eram conhecidos pelo Ocidente como estando nesse campo. Não demonstra que tenha ambições territoriais. Mas se esse tipo de ameaça regressar, o apoio dos EUA nunca decerto faltará, seja qual for a forma de entendimento estratégico da Europa. Nesse caso não seria só a segurança da Europa a ficar em causa; ficariam também interesses elementares dos EUA.

Alexandre Reis Rodrigues
Associado
O Vice-Almirante Alexandre Reis Rodrigues, como oficial subalterno, serviu na Guiné-Bissau, no Destacamento nº7 de Fuzileiros Especiais. Os períodos de mar incluíram o comando do patrulha Cunene em Angola, a chefia do estado-maior e o comando de um Grupo Naval, o comando da fragata Roberto Ivens, num período de atribuição à Força Naval Permanente do Atlântico, da qual foi seguidamente chefe do respectivo estado-maior internacional e comandante.
Cargos em terra incluíram quatro anos na chefia da Divisão de Operações do Estado-Maior do então Comando Naval do Continente e cinco anos no Estado-Maior da Armada, primeiro na chefia da Divisão de Operações e depois na chefia da Divisão de Planeamento.
Em terra, como oficial-general, foi Superintendente dos Serviços de Material da Armada, Comandante Naval, Comandante do Quartel-General da NATO em Oeiras e comandante da EUROMARFOR, uma força naval incluindo navios da França, Itália, Espanha e Portugal. Concluiu a sua carreira na Marinha como Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, após o que foi vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais da Sociedade de Geografia de Lisboa, entre 2003 e 2007, vice presidente da Atlantic Treaty Association, entre 2003 e 2006, e secretário geral e depois vice presidente da Comissão Portuguesa do Atlântico entre 2001 e 2015.
Tem escrito sobre assuntos de defesa em jornais e revistas, proferido conferências e publicou os livros “Nos Meandros da Política de Defesa” (2002), “Defesa e Relações Internacionais” (2004), “Junho de 1998 – Bissau em Chamas” (co-autor) (2007) e “Planeamento militar por capacidades – Uma visão político-estratégica” (2015). É membro do Conselho Consultivo da Revista RI – Relações Internacionais, do Conselho Editorial da Revista Segurança e Defesa e do Conselho Científico do Centro de Investigação de Segurança e Defesa do IESM.
[1] Pew Research Survey, early 2016.
[2] Senior Fellow do German Marshall Fund of the United States, especialista em política de UE para a Vizinhança Próxima, Médio Oriente, Mediterrâneo e futuro da UE.
[3] “Disdain for EU from President Trump, tough love from President Clinton”.
[4] Autonomamente em relação aos EUA mas não necessariamente em relação à NATO.
[5] “All or nothing? The EU Global Strategy and Defense Policy after Brexit”