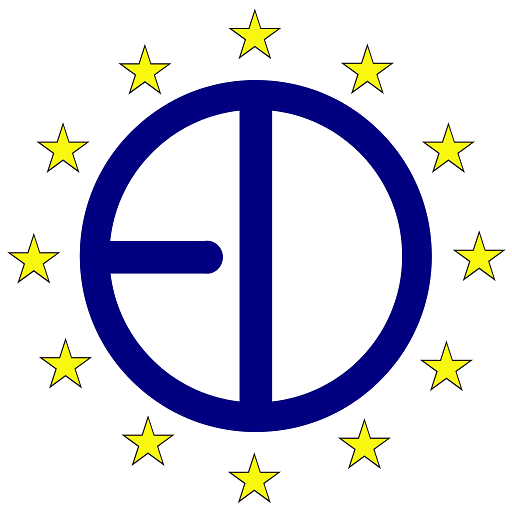1. A Europa no pós-Guerra Fria
Foi em 1991, na Cimeira de Maastricht, que a Europa afirmou a vontade de se dotar de uma Política Externa e de Segurança Comum. O que constituiu uma alteração radical face ao último meio século de vida da União e um passo indispensável para o relacionamento deste espaço de 500 milhões de pessoas com o mundo que o rodeia. Mas foi sobretudo um primeiro passo volitivo.
Durante décadas a Europa foi apenas uma construção económica sem uma identidade política própria no campo externo, nem uma voz comum que expressasse os seus princípios, valores e interesses estratégicos no palco internacional. Na realidade durante a guerra-fria a segurança do continente europeu foi garantida pela NATO, Aliança onde os custos pela defesa foram substancialmente assumidos pelos EUA. A Europa que tinha emergido da 2ª Grande Guerra em estado de choque, destruída e arruinada, pôde assim dedicar as suas energias ao desenvolvimento económico, em segurança, que resultou no “milagre europeu”, tão esquecido hoje.
A queda do Muro de Berlim em 1989 e o colapso do Bloco de Leste, trouxeram alterações fundamentais. Rapidamente se esvaiu a ameaça convencional, generalizada, existencial, que durante 50 anos pairara sobre a Europa. Todos pretenderam aproveitar os dividendos da paz. Dá-se uma redução dramática nos equipamentos e nos investimentos dedicados à defesa e segurança ao nível do continente. Todavia durante a década de 90, vários conflitos não resolvidos, mas que tinham sido congelados pela contenção bipolar, explodiram em crises violentas. À porta da Europa, a Jugoslávia fragmenta-se e os Balcãs incendeiam-se em dramáticos e mortíferos conflitos étnicos. Ao longo do Mediterrâneo desde a Argélia, ao Egito, à Cachemira, ou ao Cáucaso os governos locais são confrontados com uma ofensiva jihadista que a retirada do Afeganistão em 1989 pela União Soviética permitiu que regressasse aos seus locais de origem, em contestação radical às autoridades locais. O Iraque invade o Kuwait em 1990. Desenha-se um arco de crises à volta da Europa cujos efeitos afetavam a segurança e se podiam propagar ao interior do continente. Falava-se então de um planeta em balcanização.
As instituições da Comunidade Europeia, apoiando-se na União da Europa Ocidental (UEO), procuraram, sem sucesso, estabilizar a situação nos Balcãs e promover uma solução política para a região. Uma vez mais, porém foi necessário o envolvimento diplomático dos EUA e a intervenção da NATO (a sua primeira operação real desde a fundação) para parar o conflito e posteriormente recolher as forças das Nações Unidas dispersas no terreno e pacificar a Bósnia- Herzegovina. As limitações da União Europeia pós-Maastricht ficaram à vista. Era um “gigante económico, com pés de barro”, irrelevante mesmo para resolver questões de instabilidade no seu continente. Sentia-se a imprescindível necessidade de dotar a União Europeia com os meios (militares) necessários para a efetiva sustentação da sua capacidade política e diplomática. Ao menos na sua periferia imediata. E essa vontade, para gerir crises, foi assumida na Cimeira de Amesterdão em 1997[1], mas sem que os estados-membros se colocassem de acordo com a forma de a concretizar. Existia a vontade, mas não foram atribuídos os meios. Perante a possibilidade da absorção da UEO pela União Europeia, ou em alternativa de criar estruturas próprias na UE, apenas foi acordada uma aproximação mais estreita entre as duas instituições, a UE e a UEO.
2. O Entendimento Fundacional da Política de Segurança e Defesa
E o acordo não foi obtido porque tocava questões centrais. Ou seja, como articular uma capacidade de segurança e defesa autónoma na Europa, com a defesa comum do Continente à responsabilidade da NATO. Qual a instituição em que seria prosseguida a defesa comum. Na NATO, na União Europeia ou numa NATO a dois pilares. E como compatibilizar uma União Europeia com capacidades militares para gerir crises, com a mesma função por parte da NATO.
E estas questões que tinham vindo a bloquear a reorientação estrutural da União Europeia, só foram ultrapassadas através do entendimento obtido, já no fim da década, em dezembro de 1998, em S. Malô, entre o Reino Unido e a França. Em que se harmonizaram as diversas visões europeias e se definiu, de forma liminar, a relação conceptual na área da segurança entre a NATO e a UE, com base em 4 pontos[2]:
- A UE será dotada de “capacidade para ação autónoma”, apoiada em “forças armadas credíveis”, para responder a “crises internacionais”;
- Os empenhamentos de alguns estados membros que prosseguem a sua “defesa coletiva” na NATO serão respeitados;
- A EU deverá ser dotada dos meios próprios para tomar decisões, planear e “aprovar ação militar onde a Aliança como um todo não estiver empenhada”
- Este exercício será efetuado sem “duplicações desnecessárias” tomando em consideração as capacidades já existentes e pré-designadas quer na NATO quer em meios nacionais ou multinacionais fora da Aliança.
É um quadro novo. Aceita-se que a UE disponha de forças próprias, contrariando uma posição minimalista inglesa que tinha sido adotada até aí e que tinha impedido por exemplo a integração da UEO na UE enquanto seu braço armado. Mas menciona-se a necessidade de que estas forças sejam credíveis, indo ao encontro da realidade europeia (e do pensar inglês) nesta matéria. Abre-se caminho à criação na UE de estruturas para a segurança e defesa (mas sem duplicações desnecessárias). Aceita-se a possibilidade da UE conduzir ações autónomas, mas para impedir conflitos institucionais condiciona-se o lançamento de tais operações ao facto da Aliança não estar empenhada como um todo, dando a esta a primazia na opção.
Na sequência do acordo bilateral obtido, a NATO, na Cimeira de Washington, de junho de 1999, adotou o texto acordado quase ipsis verbis. E oficialmente disponibilizou para eventuais operações da UE, no âmbito dos Acordo de Berlim agora passado a Berlim+, um conjunto das capacidades de comando, de planeamento e de meios que a UE podia usar nas suas operações.
A União Europeia na Cimeira de Colónia, do mesmo ano, seguiu idêntico procedimento e adotou no texto da cimeira o acordo alcançado. Para além disso definiram-se as estruturas de direção política e estratégia e nomeou-se o Alto Representante para a PESC[3]. Nesse conselho a estrutura operacional da UEO foi extinta e criada a Política Europeia de Segurança e Defesa.
Define-se o nível de ambição em Helsínquia[4] e seguem-se todos os passos para conceber e operacionalizar as estruturas de comando e identificar as unidades e meios necessários para desenvolver as operações de gestão de crises assumidas e o nível de ambição desejado.
Desenvolveu-se um esforço notável, durante 3 anos, de planeamento, elaboração de doutrina, levantamento de forças através de sucessivas conferências com os estados-membros, mas a União Europeia declarou a sua operacionalidade e conseguiu realizar em 2003 as primeiras operações que ficaram como um marco de referência:
- Uma operação de polícia, de natureza civil, na Bósnia-Herzegovina, no quadro das NU, substituindo a sua operação no terreno;
- A operação Concórdia na Macedónia, na sequência da paz de Orhid que tinha sido alcançada em estreita cooperação entre a NATO e a EU/PESD. Em que se fez uso das estruturas de comunicações e de planeamento tal como previsto na Cimeira de Washington, mas sendo a operação conduzida no terreno em termos políticos, estratégicos e militares pela EU.
- E a operação Artemis, no Congo, no quadro de uma solicitação das NU, operação autónoma e fora dos limites de atuação da NATO. Esta operação modelar, cujas forças projetadas numa semana fizeram a diferença no terreno, viria mesmo a constituir a referência para a formulação dos Battle Group (BG) dando uma capacidade de resposta imediata à EU. Que nunca foram usados, apesar de constantemente mantidos operacionais.
3. Os efeitos da retirada do Reino Unido
Continuado até hoje em mais de três dezenas de operações civis e militares no terreno, mas com poucas alterações estruturais de substância, este é o acquis operacional da UE. A sua posição e rosto têm vindo a estar presentes no mundo, tem assumido uma posição política perante as questões complexas que nos rodeiam, contribuído para resolver problemas complexos (como nas negociações com o Irão) e tem articulado estratégias comuns de longo prazo com quase todos os espaços críticos. É certo que falta um esforço sustentado para corrigir carências bem conhecidas na estrutura de forças e que as suas operações são geralmente limitadas e de baixo risco. Mas a presença da UE tem continuando a ser requerida e aceite. E é igualmente certo que o grande alargamento de 15 para 28 países levou a uma alteração profunda de prioridades para o campo interno que a crise recente agravou, apesar do contexto exterior se ter tornado mais perigoso tanto e leste como a sul com as crises da periferia a arrastar-se para o interior da europa em vagas de refugiados e de atuações terroristas. Nas palavras de Federica Mogherini, estamos num momento em que “o propósito e mesmo a existência da nossa União está a ser questionado. A nossa vasta região tornou-se mais instável e mais insegura[5]”.
É, pois, num momento particularmente sensível que se dará a saída Reino Unido da União Europeia. Quando se pretende visualizar o impacto dessa saída nas áreas da Política Externa e de Segurança Comum bem como da Política Comum de Segurança e Defesa, finalidade desta reflexão, estamos naturalmente perante um intrincado complexo de fatores políticos, estratégicos e militares que arrastam incidências racionais e objetivas, mas também psicológicas e emocionais. Que abordarei, todavia, apenas em três níveis: o seu impacto sobre a unidade ocidental; sobre as relações entre a NATO e a própria UE; e sobre as capacidades disponíveis da UE.
3.1. Sobre a Unidade Ocidental
O Ocidente pelos seus valores, cultura e desenvolvimento, representa e representará um marco civilizacional notável, um espaço de liberdade, tolerância e de democracia indispensável, particularmente num momento em que estes valores estão sob ataque, num mundo em que regimes autocráticos e confessionais procuram redefinir as regras de comportamento internacional e condicionar a nossa liberdade de ação. Num mundo sem uma ordem internacional reconhecida como tal, nem uma governação global que garanta o primado da lei, a estabilidade internacional, ou a redução de assimetrias insustentáveis.
Em que se sente a necessidade de aproximar as duas margens do Atlântico. Já em 2001, Kissinger[6] se interrogava mesmo sobre se o sentido de propósito comum do passado se mantinha e propunha um quadro institucional abrangente que alargasse as relações mútuas a outros domínios. Outros notavam a diferença entre um ocidente de Marte e outro de Vénus[7]. A diferença entre os dois campos na área da segurança e defesa expressa-se frequentemente na questão do “burden sharing”, ou seja, na diferença de esforços entre a América e a Europa na segurança do velho continente. Junta-se hoje o rebalanceamento dos EUA para o Pacífico materializada na menor presença das forças americanas na Europa desde 1945. Muito há certamente a fazer para que este vasto espaço transatlântico partilhando os mesmos valores, aproximado por laços económicos profundos e representando cerca de metade do produto interno mundial, continue coerente na prática e tenha uma expressão externa correspondente ao seu enorme potencial conjunto. A Cimeira da NATO na Polónia de julho de 2016 é um esforço de união bem conseguido, e a negociação entre a União Europeia e os EUA do Tratado Transatlântico para o Investimento e o Comércio (TTIP), bem como do Acordo Alargado Económico e de Comércio com o Canadá (CETA) apresentam oportunidades relevantes no mesmo sentido.
Não vamos carrear para este texto os traços do debate sobre a saída do Reino Unido da UE, o “Brexit” que, em essência, configura um momento de fracionamento sensível, desta vez na União Europeia, nunca dantes experimentado. E que pode levar a novos referendos e estimular visões nacionalistas ou xenófobas.
As suas consequências mútuas estão em aberto, muito dependendo do processo de separação a encetar. Mas terá consequências políticas, nomeadamente requerendo novos equilíbrios entre as potências europeias e deixando a Alemanha em maior evidência relativa; terá consequências económicas e sociais que decorrerão do “modelo de associação” a estabelecer com a UE, o qual pode oscilar entre a sua continuação no mercado único com a aceitação das regras relativas á movimentação (como a Noruega ou a Suíça) ou o estabelecimento de um acordo de comércio livre (como o Canadá) mais limitado, mas com incidência limitativa nomeadamente no sistema bancário inglês e na City; terá ainda naturalmente consequências estratégicas. A saída do Reino Unido, que é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança, potência nuclear e com uma das 4 maiores e mais bem equipadas forças europeias, terá consequências reais que iremos analisar mais à frente.
Mas parece necessário referir dois argumentos esgrimidos na campanha, que podem ter consequências futuras no campo externo. Por um lado, o argumento de que a saída da UE visa permitir que o RU possa ser um ator livre num mundo em mudança. No mundo de hoje não há países por mais poderosos que sejam que, por si sós, possam fazer face a desafios como o aquecimento global, o terrorismo transnacional ou o crime organizado. Há que estabelecer alianças, cooperação, entendimentos. E nesta circunstância, o posicionamento futuro do RU no mundo pode levar a reorientações com impacto na Europa e mesmo contra os interesses europeus.
Por outro lado, os argumentos de que a Europa apenas interessa ao RU como uma área económica, são profundamente limitativos e esquecem o valor global deste espaço histórico, humanista e de democracia plural. E poderão induzir a que o fator económico seja exclusivo nas negociações (julga-se que serão cerca de 50) que o Reino Unido terá que conduzir com outros espaços simplesmente por sair da UE. As aproximações para as negociações em curso (por exemplo com a Índia) poderão agora fazer-se em ambiente de competição com a EU. O que seria mutuamente inconveniente.
Parece, pois, indispensável dum ponto de vista político, económico e estratégico que a eventual separação do RU se faça em ambiente de serenidade e cooperação que permita manter a sua inserção no espaço ocidental nos termos que melhor se ajustem aos interesses de todos, e sem que os princípios de base deste espaço de estados democráticos saiam diminuídos.
3.2. Sobre o relacionamento entre a NATO e a UE
Já vimos que o quadro do relacionamento entre a NATO e a UE foi claramente definido em S. Malô e ratificado pelas duas instituições. Naturalmente que nem sempre este relacionamento foi simples como previsto e teve mesmo momentos de quase paralisia. O alargamento da UE em Maio de 2004 a mais 10 países e 70 milhões de pessoas do leste europeu levou não só ao aumento de 15 para 25 países e pouco depois aos atuais 28. Mas trouxe sobretudo mais diversidade, novos e específicos problemas, a aproximação às áreas de instabilidade a leste e a sul e naturalmente a maior abrangência de interesses.
As relações entre a NATO e a EU foram naturalmente condicionadas por esta diversidade. A resposta para ultrapassar estas dificuldades foi conceptualmente resolvida na UE pela criação de três mecanismos aprovados na Cimeira de Lisboa. As “Cooperações Estruturadas Permanentes” que permitem a aproximação entre países querendo trabalhar mais estritamente e assumir um maior grau de esforço e de risco. O “apoio mútuo” entre países que se sintam ameaçados e a possibilidade de um “grupo de países” poderem conduzir operações de gestão de crises, se autorizados pelo Conselho. É certo que estes mecanismos nunca foram postos em prática. E há seguramente um longo caminho a percorrer para que a complementaridade e apoio mútuo entre a NATO e a UE alcancem todo o potencial.
A saída do RU pode abrir caminho a uma alteração progressiva das relações entre as duas instituições em duas direções opostas, ambas com resultados negativos.
Uma pode ir no sentido da minimização progressiva da PESD e in limine na sua absorção pela NATO. Face às faltas significativas de capacidades para preencher os requisitos definidos (desde 1999 em Helsínquia) e perante a retirada do RU que dispõe de capacidades relevantes a nível europeu, poderia criar-se uma dinâmica de continuado enfraquecimento e mesmo de irrelevância da componente de segurança e defesa da UE. Que faça da NATO a instituição, de facto, sobrevivente. Seria uma evolução dramaticamente negativa para a Europa por três razões. Em primeiro lugar porque representando quase meio bilião de pessoas, cerca de 25% do produto interno mundial, sendo o primeiro parceiro e primeiro investidor em quase todos os países do mundo[8], mas com uma dependência externa significativa em termos de energia e comércio, a Europa não pode alhear-se do mundo. Deve constituir-se como um ator responsável partilhando as responsabilidades pela segurança mundial. E a aproximação a zonas de instabilidade e insegurança que o alargamento a 28 países ditou, torna essa opção inescapável. É um velho adágio político, e sabedoria de séculos, que a política e a diplomacia têm que ser apoiadas em meios eficazes para serem credíveis e efetivas. A boa vontade não chega. A seguir porque a Europa tem interesses próprios que tem que assumir por si, ou interesses que se projetam para além dos limites geográficos da NATO. Como a recolha dos seus nacionais em áreas de conflito, os apoios humanitários e a catástrofes internacionais, ou as crises na sua periferia, ou além desta – como em Africa, onde existem vínculos históricos especiais. Finalmente porque a UE dispõe de uma palete de capacidades única no mundo para responder às situações de instabilidade e conflito. Capacidades que que vão desde a ajuda humanitária, ao apoio ao desenvolvimento, ao apoio legal, à reforma das instituições, à formação, às sanções económicas, ou às ações militares, mas que só têm valor e eficácia se articuladas numa estratégia coerente e abrangente.
Por outro lado, a tendência de relacionamento com a NATO pode ir em sentido contrário, ou seja, no sentido da separação, da autonomia ou do fechamento da política de segurança e defesa, o que é também uma evolução inconveniente. A NATO é para muitos estados membros a organização de referência para a garantia da sua defesa nacional, e constitui hoje a única instituição que, em continuidade e diálogo estratégico, aproxima as duas margens do Atlântico. Diálogo que é insubstituível no mundo perigoso e incerto que se adivinha.
As duas instituições devem, pelo contrário, atuar cada vez mais concertadamente perante desafios globais que nenhum país, seja qual for, tem capacidade para resolver. E parece ser essa a disposição resultante quer da Estratégia Global da União Europeia de Julho deste ano ou da Cimeira da NATO em Varsóvia.
Em síntese, conceptualmente as relações entre as duas instituições estão bem definidas. E não creio que se lucre em alterá-las, apesar da retirada do RU. Ao contrário, essa será mesmo uma razão para as proteger, para promover a sua complementaridade e rentabilizar os parcos meios existentes, pois cada país só tem um conjunto de forças armadas. Hoje a Componente Militar da UE simboliza o pilar europeu da NATO considerada a Aliança referência da defesa coletiva e o fórum essencial entre os dois lados do Atlântico. A UE atuará autonomamente para promover os seus interesses próprios quando a NATO como um todo não estiver empenhada.
3.3. Sobre as capacidades de Segurança e Defesa da UE
O nível de ambição da UE definido em Helsínquia, traduziu-se num “Catálogo de Forças” que os estados membros aceitam disponibilizar para as operações europeias. Em que uma parte substancial é disponibilizada pelo Reino Unido.
A saída do RU terá naturalmente um impacto substantivo que se projeta desde o nível estrutural, de decisão, até às capacidades, que analisaremos a seguir
3.3.1 As Indústrias de Defesa
Um primeiro impacto poderá verificar-se ao nível da capacidade de produção e sobretudo da articulação das empresas de defesa.
O mercado europeu na área da defesa é constituído em geral por empresas de pequena ou média dimensão, cuja génese é nacional e voltada historicamente para assegurar a defesa própria. Apesar da profunda alteração de relacionamento dos povos europeus depois da segunda guerra mundial, e do esforço de consolidação industrial realizado nas últimas décadas, continua, todavia, a ser um mercado fragmentado, com duplicações evidentes e forte ligação e dependência nacional. Na Europa produzem-se diversos modelos de carros de combate, mais de uma dezena de empresas produzem viaturas blindadas de rodas de características semelhantes e o mesmo se passa com a produção de aviões, navios ou sistemas de comunicações e de eletrónica. O investimento em investigação desenvolvimento é por isso também fragmentado, além de baixo, comparativamente ao dos EUA, existindo uma diferença substancial entre as duas margens do Atlântico nesta área fundamental.
Quando nos anos 2000, se realizaram a nível do Comité Militar da União os estudos para levantar os meios requeridos pelo Objetivo de Forças definido em Helsínquia, identificaram-se shortfalls estruturais muito significativos, face às existências reais. Na Europa faltam sobretudo meios de projeção de forças, sejam navais e aéreos, sistemas de comunicação e de informação estratégica, meios de reconhecimento, vigilância e aquisição de objetivos, de reabastecimento aéreo, munições guiadas de precisão e outros mais específicos, cuja aquisição se torna difícil a nível de cada país requerendo atitude de aquisição coletiva, ou a junção dos meios existentes. O célebre “pooling e sharing” de capacidades. A Agência Europeia de Defesa criada em 2003 visa exatamente ultrapassar estas debilidade segundo 3 direções de atuação principais: identificar as necessidades dos estados membros e harmonizar os requisitos técnicos para permitir a sua produção coordenada; fomentar a cooperação na área dos armamentos; e promover o desenvolvimento da investigação e da tecnologia. Para no fundo criar um mercado competitivo e eficiente apoiado em empresas articuladas, a que por falta de outra designação se chama a Base Tecnológica e Industrial da Defesa Europeia (BTIDE).
A saída do Reino Unido onde existem importantes empresas de defesa, pode exacerbar a fragmentação na base industrial europeia perante uma situação já de si carente. De facto, a maioria da produção de defesa é efetuada nos 6 países (França, a Alemanha, a Itália, a Espanha, a Suécia e o Reino Unido) que assinaram a “carta de intenções” para criar o enquadramento para o que viria a ser a BTIDE. Duas diretivas posteriores (2009/43/EC e a 2009/81/EC) que constituem hoje a coluna vertebral do sistema e regulam os procedimentos para a obtenção de licenças de produção, definiram os procedimentos contratuais e as normas que minimizam a discriminação e aumentam a transparência neste mercado tão sensível
Por outro lado, e dado que o investimento em Investigação e Desenvolvimento (I&D) tem também vindo a diminuir, perdendo 11% entre 2006 e 2013, foram tomadas diversas medidas pela UE para aumentar os fundos destinados aos projetos cooperativos que visam corrigir faltas estruturais. A Comissão Europeia anunciou mesmo que irá transferir, pelos mecanismos apropriados, fundos destinados a projetos de investigação e pesquisa na área da defesa e não apenas para os de duplo uso. Em 2015 assinou o primeiro acordo que atribuiu €1.4 Milhões para projetos de duplo-uso que funcionarão como projetos piloto.
Em 2015 foram iniciados projetos concretos administrados pela Agencia Europeia de Defesa que incluem o projeto de Viaturas Blindadas Ligeiras Multi-Propósito e o Sistema Aéreo Pilotado à Distância de Altitude Média e Longa Permanência, que seguem, particularmente o último as decisões que o Conselho Europeu adotou no final de 2013. A RU tem também sido parte em projetos cooperativos como o do avião A400 o que torna ainda mais complexa a sua retirada da UE nesta área[9].
Julgo não ser necessário aduzir mais argumentos para referir que a saída do RU da UE deve nesta área ser cuidadosamente ponderada, dado o impacto negativo que qualquer rotura terá nos projetos em curso. Jugo importante que o RU mantenha as suas empresas aptas a contribuir para o mercado da defesa seguindo as normas europeias, tal como outro país europeu. E parece mesmo adequado que tal como acontece com a Noruega, a Suiça, a Republica da Serbia ou a Ucrânia seja efetuado um Acordo Administrativo que lhe permita participar nos projetos e programas da Agência Europeia de Defesa.
3.3.2 As Estruturas e Agências Europeias
No quadro das Instituições de Segurança e Defesa, o RU sairá dos órgãos em que se faz a representação nacional, como é o caso do Comité Político e de Segurança bem como do Comité Militar, deixando de participar nos processos de decisão. E essa será a consequência mais radical, nesta área, da sua saída da União Europeia.
Tenho como profundamente relevantes na presença do RU nas instituições da PESC o seu apego à ligação transatlântica, ao realismo e à enfase na criação de capacidades reais e usáveis e não em processos burocráticos desnecessários ou duplicados. E na parte mais condicionadora, a desconfiança de tudo o que limite ou condicione a sua liberdade plena, o que no campo da política e defesa se traduziu num processo de decisão exclusivamente por consenso, que pode ser facilmente vetado por qualquer estado membro o que tem acontecido frequentemente. Ou na dificuldade em dar maior capacidade a órgãos técnicos cuja ação poderia ser substantivamente maior como foi o caso da Agência Europeia de Defesa.
Outros órgãos de planeamento, constituídos por todos os estados membros, apoiam a ação das Instituições que referi anteriormente. É o caso do Estado Maior Militar (EMM) na parte do planeamento estratégico militar e do Diretorado de Planeamento e Gestão de Crises (DPGC), que é a entidade de planeamento estratégico civil-militar integrado para as operações de manutenção de paz e humanitárias. Deve dizer-se que este Diretorado, recente, foi constituído em consequência do Tratado de Lisboa, após longas discussões. Lembremo-nos da proposta efetuada em 2003 por alguns estados membros, para a criação pela UE dum Quartel General Operacional em Tervuren que levantou inúmeras críticas por ser considerada uma “duplicação desnecessária” com outros órgãos existentes (no caso, o SHAPE) desviando a europa da questão prioritária do desenvolvimento de capacidades. A constituição do DPGC apenas foi acordada, atendendo ao facto de que várias operações da União Europeia são constituídas por um componente civil e outro militar, e não existirem órgãos próprios com a capacidade para gerirem, de forma integrada, as duas componentes.
Para além destes, existem as chamadas Agências. O Centro de Satélites Europeu, o Instituto da União Europeia para Estudos de Segurança, e o Colégio Europeu de Segurança e Defesa. Nestes, como nos restantes que não sejam de representação nacional, a presença inglesa pode (e julgamos que deve) ser negociada e acordada. E a sua colaboração futura em operações em que pretenda acompanhar a UE poderá ser facilitada pela presença de observadores ou de elementos de ligação. Como é o caso do Estado Maior Militar onde existem observadores da NATO, dos EUA e de outros países que não pertencem à União. Mas será sobretudo o seu direito de intervenção e influência formal e oficial, enquanto Estado, que irá chegar ao fim.
Fica em aberto e será provavelmente um dos aspetos complexos a discussão da sua participação na Europol e nas estruturas de controlo das fronteiras externa da União, tendo sido este um dos aspetos mais salientes no contexto político durante o processo que conduziu ao Brexit. Mas que terá que ser analisado, tendo em conta que a fronteira entre as duas Irlandas passará a ser uma fronteira exterior da União.
3.3.3. As Forças e os Órgãos de Comando
Em 2015[10] o gasto total em defesa efetuado pelos 28 estados membros da UE foi de €203.143 biliões. O que corresponde a uma diminuição em termos reais de 0,4% em relação ao ano anterior, ou de 14,5% d decréscimo desde 2007. Apesar da aceitação geral de se parar a redução e progressivamente se alcançar um gasto com a defesa de 2% do PIB, estamos ainda numa fase de ligeiro decréscimo geral, se bem que menos acentuado do que vinha acontecendo.
Mas interessa sobretudo notar as diferenças relativas entre os estados membros da União, que a imagem seguinte reflete.
Em 2015 o orçamento da defesa mais elevado foi do Reino Unido com €50.15 biliões, seguido da França com €42 biliões, da Alemanha com €33 biliões e da Itália com cerca de €18 milhões[11].
O Reino Unido é um dos países, alem da França e eventualmente da Alemanha que pode disponibilizar uma Grande Unidade de manobra de escalão Divisão.
As unidades e órgãos que prevê disponibilizar para o Catálogo de Forças da União Europeia corresponde em termos gerais a 20% do total. A sua saída leva, pois, à necessidade de aumentar a participação dos restantes e, ou a repensar o nível de ambição da União Europeia. E põe naturalmente em causa a capacidade da UE para realizar algumas das operações definidas, nomeadamente no limite superior do espectro dos conflitos.
É certo que outros países, como a Turquia, pretenderam também disponibilizar forças e por isso foi criado um Catálogo de Participações para os países que não fazem parte da UE e onde, caso haja interesse, as forças do RU podem também ser inseridas no futuro. Mas não é a mesma coisa.
Deve todavia notar-se embora o RU tenha acompanhado e participado na atividade operacional da UE não tem sido um defensor do emprego da união nos níveis mais elevados das operações e apesar da abertura desde o Tratado de Lisboa para a constituição, no quadro da UE das Cooperações Estruturadas Permanentes, os chamados Tratados de Lancaster House de Novembro de 2010 , estabelecendo uma parceria bilateral de longo-termo na área da defesa e segurança com a França foram assinados a título bilateral, tendo mantendo o distanciamento quer com a NATO quer com a UE, se bem que garantindo o apoio a ambas as Organizações bem como às Nações Unidas.
Vejamos, para concluir, o que se poderá passar com os Órgãos de Comando Operacional. Devendo notar-se que para além das estruturas de decisão coletiva de natureza política (Comité Político e de Segurança) e estratégica (Comité Militar), todos os restantes órgãos de Comando são disponibilizados pelos Estados Membros para as operações concretas.
Para cada operação existem dois níveis de Comando. Os Quarteis Generais de Operação (QGO) que têm uma responsabilidade tripla: fazem o interface com os órgãos de direção político/estratégica da União referidos acima; com os países que disponibilizam forças e meios; e com as unidades no terreno comandadas pelos Quartel General da Força (QGF).
O RU dispõe como uma das opções da UE um excelente QGO em Northwood que comanda a atual operação naval da UE no Corno de África. É provavelmente o melhor dotado de capacidades para comandar uma operação naval multinacional, fora de área, e por certo irá fazer falta no quadro de opções da UE. Certamente, e mais uma vez, é possível que a participação deste QG em operações da UE se possa efetuar no futuro sendo necessário para isso um acordo negociado. A UE dispõe, todavia, de outras opções:
- O QGO Italiano em Roma, já ativado para a operação na Líbia em 2011;
- A Centro de Planeamento e Conduta de Operações Francês e respectivo QGO em Mont Valérien, com responsabilidade assumidas desde 2003 na operação Artemis no Congo;
- O QGO Alemão em Potsdam;
- E o QGO Grego em Larissa.
- Para além destes, permanece como alternativa para situações mais complexas ou inopinadas o SHAPE enquanto QG permanentemente operacional da NATO e usado desde 2003 para a operação Concórdia na Macedónia.
4. Algumas conclusões
Julgo possível retirar desde já algumas conclusões sintéticas que o tempo burilará.
Antes de mais o interesse político, económico e estratégico de que a separação do Reino Unido se faça em ambiente de cooperação e entendimento, promovendo a melhor cooperação mútua no futuro.
Sendo, todavia, uma separação que poderá enfraquecer o processo europeu e nomeadamente a sua capacidade de atuação no campo de politica de segurança e defesa, motivo desta reflexão, parece imprescindível que se efetue uma cuidadosa reavaliação do nível de ambição da União. Julgamos mesmo que na sequência da aprovação da Estratégia Global da União Europeia, este é momento oportuno. Que do nosso ponto de vista deverá passar pelo reforço das responsabilidades da Agência Europeia de Defesa, pela promoção da produção e aquisição coletiva de capacidades para resolver as persistentes faltas e pela maior junção e partilha de capacidades existes. E deverá sobretudo passar pela correção da redução persistente dos orçamentos nacionais dedicados à defesa que tem levado ao efetivo desarmamento da Europa.
Finalmente julgamos que o equilíbrio conceptual entre as funções das NATO e da União Europeia se devem manter, pois parece constituírem a melhor forma de articular as capacidades e interesse de todos os povos da Europa
Sintra, 14 de Julho de 2016

António L. Fontes Ramos
Vice-Presidente do Conselho Geral
[1] Em que a União Europeia expressou a vontade de executar operações humanitárias e de gestão de crises que a UEO tinha também assumido em 1992 em Petersberg, motivo porque são conhecidas por essa designação.
[2] Disponível em http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp047e.pdf consultado em 2 Julho 2016
[3] Que foi Javier Solana, personalidade de elevado perfil políticos e diplomático que já tinha sido Secretário Geral da NATO.
[4] Na Cimeira de Helsínquia de 1999 foi acordado que até 2003, a UE devia ter a capacidade de projetar rapidamente (até 60 dias) e apoiar no terreno, pelo menos durante um ano, uma força de 50 000 a 60 000 homens (cerca de 15 Brigadas). Esta força devia poder realizar as mais exigentes tarefas de Petersberg (tipicamente uma operação semelhante à que a NATO realizara na Bósnia-Herzegovina), pelo que deveria ser autossuficiente em comando e controlo, informações, apoio logístico e outros apoios de combate. Deveria ser ainda dotada do apoio aéreo e naval adequado.
[5] Palavras de Federica Mogherini no prólogo da Estratégia Global da União Europeia
[6] Kissinger Henry, Does America need a Foreign Policy, Simmon & Schuster, 2001. p.13
[7] Robert Kagan, A Potência e a Fraqueza – Os Estados Undos e a Europa na nova Ordem Mundial, Plon, 2003
[8] European Union Global Strategy, Jun 2016
[9] EUISS Yearbook of European Security (YES) 2016, p. 98
[10] EUISS Yearbook of European Security (YES) 2016, p. 92
[11] Idem, p. 89